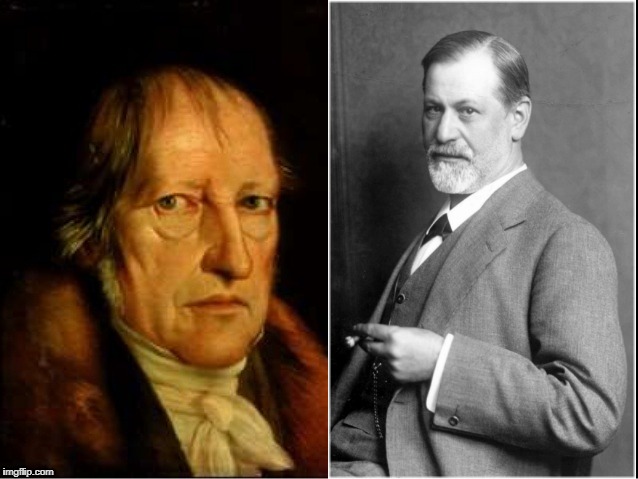
Por
Glauber Ataide – mestre em Filosofia pela UFMG.
Introdução
A investigação dos pressupostos teóricos
implicados nas principais categorias psicanalíticas já produziu fecundas
aproximações com a filosofia. Embora o próprio Freud não tenha elaborado uma
fundamentação ou sistematização filosófica de sua obra, tanto seus conceitos
quanto a dinâmica do psiquismo por ele propostos mostram-se plenos de insights
que receberam tal tratamento por vários de seus comentadores, filósofos e
psicanalistas.
Freud, com a constituição da
psicanálise, “circunscreveu algumas problemáticas teóricas que foram
fundamentais para a filosofia” (BIRMAN, 2003, p. 7), ao mesmo tempo que a
psicanálise também teve que levar em consideração diversas ponderações críticas
formuladas pela filosofia.
Não se pode atribuir uma única filiação
filosófica à psicanálise. Se alguns autores interpretam a epistemologia
psicanalítica como essencialmente kantiana1 (SANDLER,
1997, p. 19), outros, por sua vez, encontram em Freud inequívocas influências
de Schopenhauer, enquanto que, para outros, certos conceitos psicanalíticos
parecem mais bem interpretados à luz de Hegel (GARCIA-ROZA, 2008, p. 276).
Neste artigo buscaremos uma aproximação
entre Hegel e Freud, apresentando uma interpretação hegeliana do conceito
freudiano de Verneinung. Tal leitura, inaugurada pelo filósofo francês
Jean Hyppolite em um dos seminários de Lacan, parece se justificar não apenas
pela própria tessitura ou força explicativa do comentário de Hyppolite, mas
também por diversos outros pontos de aproximação entre Hegel e Freud2,
o que reforça e fundamenta o emprego de Hegel como chave de leitura apropriada
para diversos pressupostos freudianos.
Sabe-se que Freud nunca leu Hegel
(BUTLER, 1976, p. 506). No entanto, não se trata, como afirma Paul Ricoeur, de
“colocar Freud em Hegel e Hegel em Freud, e tudo confundir” (RICOEUR, 1965, p.
374). Trata-se, antes, de tentar localizar traços que não encontraram na teoria
psicanalítica elaboração sistemática, embora tenham, na prática analítica,
valor operatório evidente (RICOEUR, 1965, p. 375).
A Aufhebung hegeliana
Aufhebung é um dos conceitos
fundamentais da filosofia hegeliana (GARCIA‑ROZA, 2008, p. 280). Este
substantivo é derivado do verbo alemão aufheben, o qual tem pelo menos
três significados distintos que nos interessam: 1) negar (no sentido de anular
ou cancelar, como quando suspendemos ou cancelamos um passeio por
causa do mau tempo), 2) preservar e também 3) elevar a um nível
superior. Hegel foi inovador ao utilizar o substantivo Aufhebung para
significar não apenas um destes sentidos de cada vez, mas os três ao mesmo
tempo (KONDER, 1984, p. 26). Devido a esta particularidade da língua alemã,
a Aufhebung é sempre um problema de tradução. No Brasil, Paulo Meneses
optou pelo termo suprassunção. No entanto, sem que se conheça esta
particularidade do uso do termo em Hegel, não se pode inferir que ele englobe
ao mesmo tempo os três significados, de modo que o próprio Hegel – e também
Paulo Meneses, ao introduzir esse neologismo em sua tradução – explica
longamente o significado particular que dá à palavra. Para demonstrar como tal
conceito é articulado na obra de Hegel, vamos nos reportar à sua ocorrência
mais clara, que é no início de seu sistema.
Em sua Ciência da Lógica, Hegel pretende dar um novo
começo à filosofia, sem pressupostos. Isso era necessário, pois Kant, ao tentar
deduzir as categorias do entendimento simplesmente tomando as categorias
aristotélicas como pressupostos, sem justificá-las ou mostrar sua interconexão
lógica, não havia sido suficientemente crítico (SINNERBRINK, 2007, p. 23). Para
isso, Hegel recorre então ao que se pode identificar de mais fundamental, que é
o ser (Sein). O puro ser é o início, pois é tanto puro pensamento quanto
o imediato simples e indeterminado (HEGEL, 1970, p. 182), sendo, assim, apenas
abstração pura, ou seja, considerado de forma imediata e indeterminada, é o
negativo absoluto, o nada (Nichts). Mas o nada é, pois, caso não fosse,
não seria indeterminado. E o nada, como este imediato e indeterminado,
igual a si mesmo, é também o mesmo que o puro ser. Por isso afirma Hegel: “o
ser e o nada são o mesmo”. Ambos são logicamente inseparáveis, e cada um é o
que é apenas em virtude do desaparecimento do outro, de modo que a verdade de
ambos é o vir-a-ser (Werden) (HEGEL, 1970, p. 188).
Tentemos explicitar este movimento. Ser e nada são
definidos por sua pura indeterminação, mas são categorias distintas ao mesmo
tempo quanto ao seu significado. Obviamente queremos sempre dizer coisas
diferentes quando usamos os termos “ser” e “nada”, mas esta diferença não pode
realmente ser articulada, de modo que Hegel lança o desafio: “Que aqueles que
insistem que ser e nada são diferentes, que ataquem o problema de dizer em que
consiste a diferença” (SINNERBRINK, 2007, p. 23).
Segundo Hegel (1970, p. 188), a afirmação de que “o ser e o
nada são o mesmo” parece à representação ou ao entendimento tão paradoxal, “que
talvez ela nem seja levada a sério”. No entanto, o filósofo de Jena afirma
deduzir sua unidade de forma puramente analítica, isso é, tudo é extraído do
que já está contido no conceito, sem trazer elementos adicionais,
externos. Pois, se o ser é o puro começo, nada existe fora dele, e tudo deve
estar contido apenas nele.3
O conflito entre essas categorias, que são indistinguíveis,
mas ao mesmo tempo opostas quanto ao significado, só pode ser resolvido ao se
avançar para o vir-a-ser, o qual, enquanto categoria “superior” e mais
complexa, engloba tanto o ser quanto o nada, isso é, incorpora o desvanecer do
ser no nada como aspectos suprassumidos de seu movimento. E esta passagem,
segundo Hegel, é um movimento exemplar da Aufhebung (SINNERBRINK, 2007,
p. 24).
Ilustremos
ainda com um exemplo mais concreto: o trabalho, ou a transformação da natureza
pelo homem. Para fazer um pão é necessário trigo, o qual se encontra em sua
forma bruta na natureza. Mas para que ele chegue à forma de pão, essa
matéria-prima deve ser negada, isso é, destruída em sua forma natural.
No entanto, ao ser transformado em pasta, o trigo é preservado, ou seja,
ainda está lá enquanto trigo. Através da atividade humana ele é então levado ao
forno e elevado a um nível superior, sendo o seu resultado o pão. Assim,
neste processo vemos os três momentos: o trigo é negado (em seu estado
de natureza), preservado e elevado a um nível superior. O trabalho, ou a
transformação da natureza pelo homem, é um exemplo de um processo
essencialmente dialético, de uma Aufhebung (KONDER, 1984, p. 27).
A Aufhebung freudiana na Verneinung
O conceito psicanalítico de denegação,
ou Verneinung, recebe seu tratamento mais extensivo por Freud em seu
artigo Die Verneinung. O substantivo Verneinung deriva do verbo verneinen,
o qual corresponde, em português, a “negar” ou “denegar”. Em alemão, este
verbo evoca a ideia de negar rebatendo algo com um “não” (Nein). A
melhor tradução seria “denegar”, pois ao traduzir-se verneinen por
“negar”, perde-se a característica de simultaneamente evocar a explicitação do
advérbio “não” e rejeitar um conteúdo apresentado ao sujeito (HANNS, 1996, p.
318). Segundo Hanns (1996, p. 314), o termo Verneinung é geralmente
empregado no contexto da escuta e da interpretação que o analista faz das falas
do paciente, e geralmente é utilizado na obra de Freud pareado com sua
antítese, Bejahung (afirmação).
Segundo Danon-Boileau (2002, p. 1234),
[...] a denegação designa um processo psíquico que permite
ao sujeito formular negativamente o conteúdo de um desejo inconsciente”, isso
é, “o conteúdo do desejo encontra uma expressão consciente, mas o sujeito
continua a pensar que esse desejo não lhe pertence.
Freud derivou tal formulação da análise
dos discursos de seus pacientes. Ele percebeu como um determinado conteúdo é
capaz de ganhar expressão consciente sob a condição de, ao mesmo tempo, ser
negado: “Você pensará agora que eu quero dizer algo ofensivo, mas não é minha
intenção”. Este exemplo expressaria, segundo Freud, apenas a rejeição de um
pensamento emergente através da projeção. Outro exemplo seria algo do tipo:
“Você quer saber quem pode ser a pessoa no sonho. Não é minha mãe”, ao que
Freud, então, corrige: “Portanto, é sua mãe”. Neste caso é como se o paciente
tivesse dito: “Eu de fato associei esta pessoa à minha mãe, mas eu não quero
ceder a esta associação” (FREUD, 1955, p. 15).
Uma maneira confortável, segundo Freud,
de tentar esclarecer um conteúdo recalcado é sempre perguntando: “O que você
considera como o menos provável naquela situação? O que, na sua opinião, estava
mais longe de você na época?” (FREUD, 1955, p. 11). Sendo o paciente capaz de
nomear aquilo em que ele menos acreditaria, o que estaria mais distante dele,
ele então quase sempre admite o verdadeiro conteúdo.
Uma representação recalcada pode,
portanto, ser levada ao consciente, mas sob a condição de que seja denegada. A
denegação é uma forma de trazer o recalcado ao conhecimento. Ela é, segundo
Freud, uma supressão (Aufhebung) do recalcamento, mas não uma aceitação
(Annahme) do recalcado. Segundo Garcia-Roza (2008, p. 282),
[...] na medida em que o paciente formula o conteúdo do
pensamento recalcado, apesar de negar que seja expressão do seu desejo, há uma
suspensão (Aufhebung) do recalcamento – posto que o recalcado pôde
ascender à consciência –, mas permanece o essencial do recalcamento, já que o
conteúdo é negado.
Segundo Hyppolite (1989, p. 49), aqui
começa algo realmente extraordinário na análise de Freud, com um alcance
filosófico prodigioso.
Apresentar o seu ser num modo de não sê-lo é realmente do
que se trata nesta Aufhebung do recalcamento, que não é uma aceitação do
recalcado [...]
afirma o filósofo francês. Se
recalcamento significa inconsciência, não haveria mais recalcamento quando se
diz: “Eis o que não sou”, já que isso é consciente. Mas, como Freud afirma, o
recalcamento subsiste quanto ao essencial.
Neste ponto, afirma Freud, pode-se ver
como a função intelectual se separa da atividade (Vorgang) afetiva. Com
a ajuda da denegação um resultado do recalcamento é desfeito, o qual tentava
evitar a emergência de um determinado conteúdo ao nível de consciência. Disso
resulta uma aceitação (Annahme) do recalcado pela continuação do
essencial no recalcamento. Às vezes é também possível, no trabalho analítico,
vencer a própria denegação e alcançar uma completa aceitação intelectual do
recalcado, mas mesmo que o analista indique ao paciente sua artimanha, e este
seja obrigado a aceitar o que há pouco negava, Freud afirma: “nem por isso o
recalcamento é suspenso (aufgehoben)” (GARCIA-ROZA, 2008, p. 282).
Segundo Jean Hyppolite (1989, p. 51), pode-se esquematizar
este processo da seguinte maneira:
Primeira etapa: eis o que não sou. Daí
concluiu-se o que sou. O recalcamento subsiste sempre sob a forma da denegação.
Segunda etapa: o psicanalista obriga-me a
aceitar em minha inteligência o que negava ainda há pouco; e Freud acrescenta,
após um travessão e sem maiores explicações: “O processo do recalcamento não
está, com isso, propriamente suspenso (aufgehoben)”.
O que, segundo Hyppolite (1989, p. 51), parece profundo
nesta descoberta de Freud, é que se o psicanalisado aceita o apontamento do
analista, volta então à sua denegação e o recalcamento ainda está ali. O que
acontece, então, é chamado por Hyppolite de negação da negação: “Literalmente,
o que aparece aqui é a afirmação intelectual, mas apenas intelectual, enquanto
negação da negação”.
É tarefa da função de juízo (Urteilsfunktion)
intelectual, segundo Freud, afirmar ou negar conteúdos de pensamento. Denegar
algo no juízo significa, essencialmente: “Isso é algo que eu gostaria de
recalcar.” A condenação (Verurteilung) é a substituição intelectual do
recalcamento, o seu “não” um sinal do mesmo, um certificado de procedência,
algo como um “made in Germany” (FREUD, 1955, p. 12). Através dos juízos de
denegação o pensamento se faz livre das limitações do recalcamento.
Neste movimento dialético da Verneinung evidenciam-se
também os vários níveis de negação e afirmação em Freud. A negação aqui
analisada é aquela que se faz através do símbolo de negação, o “não” da frase
(como em “a pessoa do sonho não é a minha mãe”) (GARCIA-ROZA, 2008, p.
283). Mas há em Freud várias formas de negação, desde a negação primordial, Ausstossung
(uma expulsão, relacionada ao princípio de prazer e ao movimento de
introjetar o que é bom e expulsar o que é ruim), até a denegação (Verneinung).
O que está em jogo, portanto, não é apenas uma oposição afirmação\negação, mas
[...] uma série de negações e
negações de negações que engendram um processo no qual o afirmado e o negado
não são excluídos pela negação seguinte, mas superados (aufgehoben)”
(GARCIA-ROZA, 2008, p. 286).
Conclusão
Embora Freud tenha evitado estabelecer qualquer conexão com
a filosofia a fim de manter o que ele acreditava ser uma “respeitabilidade
científica” da psicanálise, algumas aproximações entre ambos não parecem meros
acasos. Butler (1976, p. 507) considera que tais aproximações são, na verdade,
uma confirmação tanto daquilo que eles descobriram quanto da grandeza dos
próprios descobridores.
Além
da afinidade conceitual entre a Aufhebung hegeliana e a freudiana que
analisamos, outro importante ponto de aproximação que pode ser explorado são as
chamadas “dualidades” freudianas. Segundo Garcia-Roza (2008, p. 276), o que se
convencionou chamar “dualismos” freudianos, como, por exemplo, o dualismo de
princípios (princípio de prazer\princípio de realidade), o dualismo tópico
(inconsciente\consciente) e o dualismo pulsional (pulsões de vida\pulsões de
morte) são muito mais dualidades do que dualismos propriamente ditos. A
diferença entre “dualismo” e “dualidade” seria que,
[...] no dualismo, as entidades
implicadas preexistem e são exteriores às relações que estabelecem, enquanto
que numa dualidade, os elementos que a formam só existem na e pela
relação estabelecida (GARCIA-ROZA, 2008, p. 276).
Desta
forma, as dualidades em Freud seriam mais bem pensadas segundo um modelo
hegeliano do que segundo um modelo cartesiano, pois Hegel também pensa em
termos de dualidades, e não de dualismos.
O conceito hegeliano de Aufhebung, o qual analisamos
em relação à Verneinung de Freud, pode ainda ser explorado em relação
com outra noção freudiana: a de sublimação. Segundo Butler (1976, p. 517), na
“transcendência” (Aufhebung) hegeliana o passado é tanto negado quanto
preservado em um nível superior. Em certo sentido, o passado permanece vivo em
sua transcendência, e no fundo não se renuncia a nada de forma cabal, completa.
Isso seria muito similar à maneira com que a sublimação transfigura o erotismo
sem aniquilá-lo. Através da sublimação é dada satisfação parcial, indireta às
pulsões eróticas. Também aqui o conteúdo negado no primeiro movimento de
negação reaparece depois que a própria negação é negada, mas dessa vez
transformado, elevado a um nível superior.
Ainda outro processo psíquico que também admite uma
aproximação com a Aufhebung hegeliana é o da formação do sintoma.
Segundo Wilhelm Reich (1934, p. 25), o sintoma neurótico surge quando o eu (Ich)
recalca uma moção pulsional (Triebregung). Mas este recalcamento, por si
só, não gera ainda nenhum sintoma, sendo necessário, para isso, que a pulsão
recalcada rompa (durchbreche) o recalcamento e se manifeste novamente,
mas, agora, como sintoma. O sintoma engloba tanto a moção pulsional quanto a própria
defesa (Abwehr); isso é, ele contém dentro de si ambas as tendências
opostas, unidas no mesmo fenômeno. O sintoma é a negação da negação (REICH,
1934, p. 26).
A intenção de Reich, no entanto, é aproximar Freud não de
Hegel, mas sim de Marx. Mas tendo sido o método marxista tomado de Hegel – ou
pelo menos o seu núcleo racional, como afirma Marx –, isso abre todo um
novo campo de possibilidades. Estudos comparativos de Hegel e Freud prometem,
portanto, resultados intrigantes, haja vista a enorme influência de Hegel sobre
toda a filosofia ocidental posterior (ZARE’I; SHAGHOOL, 2014, p. 1955). Pois,
como afirma Merleau-Ponty:
Hegel
está na origem de tudo que se fez de grande há um século – por exemplo, do
marxismo, de Nietzsche, da fenomenologia alemã, da psicanálise; ele inaugura a
tentativa de explicar o irracional e integrá-lo a uma razão ampliada que
continua sendo a tarefa do século (MERLEAU-PONTY, 1966, p. 75).
Bibliografia
BIRMAN, J. Freud e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
BUTLER, C. Hegel and Freud: a comparison. Philosophy and
Phenomenological Research, Providence, v. 36, n. 4, p. 506-522, 1976.
DANON-BOILEAU, L. Denegação. In: MIJOLLA, A. Dicionário
Internacional de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 2002. v. 2.
DUDLEY, W. Understanding German idealism. Stocksfield:
Acumen, 2007.
FREUD, S. Die Verneinung. London: Imago Publishing
House, 1955. (Sigmund Freud Gesammelte Werke, v. 14)
GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à metapsicologia
freudiana. 7. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. Vol. 3.
HANNS, L. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio
de Janeiro: Imago, 1996.
HEGEL, G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen
Wissenchaften im Grundrisse. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1970. (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel Werke, v. 2).
HYPPOLITE, J. Ensaios de psicanalise e filosofia. Tradução
de André Telles. Rio de Janeiro: Livrarias Taurus-Timbre Editores, 1989.
KONDER, L. O que é dialética? 10. ed. São Paulo:
Editora Brasiliense, 1984.
MERLEAU-PONTY, M. Sens et non-sens. 5. ed. Paris:
Nagel, 1966.
SANDLER, P. C. As origens da psicanálise na obra de
Kant. Rio de Janeiro: Imago, 1997. (A apreensão da realidade psíquica, v.
3).
SINNERBRINK, R. Understanding Hegelianism. Stocksfield:
Acumen, 2007.
REICH, W. Dialektischer materialismus und Psychoanalyse.
Kopenhagen: Verlag für Sexualpolitik, 1934.
REZENDE, A. M. O paradoxo da psicanálise: uma ciência
pós-paradigmática. São Paulo: Via Lettera, 2000.
RICOEUR, P. Da interpretação: ensaio sobre Freud. Tradução de Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Imago, 1965.
ZARE’I, A.; SHAGHOOL, Y. Deconstructing the psychoanalyst of Philosophy. Mediterranean Journal of Social Sciences, v. 5, n. 23, p. 1949-1955, 2014.